Especialistas afirmam que o projeto do novo Código Civil pode ampliar o poder de interpretação dos juízes, criar insegurança jurídica e reforçar o ativismo judicial em temas como contratos, família e sucessões.
O projeto de Código Civil apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é apontado por especialistas como um texto que expande a margem de atuação dos juízes ao introduzir conceitos amplos e pouco definidos.
Juristas ouvidos afirmam que a combinação de termos abertos e contradições internas tende a estimular o ativismo judicial e a aumentar a judicialização de conflitos.
Termos abertos e margem interpretativa
Um dos principais pontos de preocupação é o uso reiterado de expressões vagas, como “função social”, “melhor interesse social” e “prosperidade”, sem parâmetros objetivos.
-
Fazenda diz que PL das Bagagens pode sair mais caro para o consumidor
-
Reforma tributária de 2025 expõe falhas ocultas e coloca o Brasil em rota de conflitos jurídicos com o polêmico “imposto do pecado”
-
Ele morou e cuidou por 10 anos de casa abandonada, juntou documentos e virou dono legítimo após decisão de usucapião na justiça
-
Justiça decide que empréstimos feitos sem assinatura, biometria ou autorização são nulos: aposentados e pensionistas do INSS terão direito à devolução em dobro e cancelamento imediato das dívidas
Na avaliação de civilistas, a ausência de balizas claras desloca para os tribunais a tarefa de dar conteúdo às normas.
Esse desenho, dizem, concede discricionariedade incomum ao julgador, que passa a definir o alcance prático de dispositivos conforme o caso concreto.
A advogada Katia Magalhães, especialista em responsabilidade civil, sustenta que o projeto transfere “de forma perigosa” atribuições do Legislativo para o Judiciário.
Para ela, o texto “está cheio de definições indefinidas” e “joga uma enorme margem decisória nas mãos dos juízes”, o que chancela o ativismo judicial e favorece soluções casuísticas.
“Código feito para o juiz”, dizem especialistas
A professora Judith Martins-Costa, livre-docente e doutora em Direito pela USP, avalia que a proposta tende a intensificar a já elevada judicialização no país.
Em suas palavras, “é um Código que foi feito para o juiz. Ele não foi feito para o cidadão”.
Segundo a civilista, o anteprojeto acumula contradições, erros técnicos e “uma quantidade enorme de palavras camaleônicas”, isto é, conceitos que não integram com precisão o vocabulário jurídico.
Para Martins-Costa, a linguagem normativa deve ser a mais determinada possível para reduzir litígios.
Ela ressalta que no Direito existem termos técnicos com sentido consolidado, como “mora”, o que permite previsibilidade.
Quando a redação se afasta desse padrão e aposta em conceitos indeterminados, o resultado esperado é mais conflito e mais espaço para interpretações divergentes.
Ativismo judicial e a ideia de “juristocracia”
Na prática, afirmam os entrevistados, a arquitetura do texto terceiriza a produção de normas para a jurisprudência.
Katia Magalhães descreve esse efeito como uma espécie de “juristocracia”, em que juízes moldam o conteúdo efetivo das regras a partir de noções abertas.
O risco, diz ela, é a formação de um ambiente “incompatível com o próprio conceito de lei”, por quebrar a generalidade e a impessoalidade que caracterizam a legislação.
Ainda nessa linha, a advogada observa que, em caso de aprovação, a ampla discricionariedade poderá blindar práticas abusivas sob o argumento de que “está assim no código”.
O legislador, prossegue, acabaria abdicando da própria autonomia ao delegar aos magistrados a tarefa de definir o alcance de cláusulas e obrigações.
Direito de família e sucessões: “abandono afetivo” e ofensa psicológica
O Direito de Família aparece como um dos campos mais sensíveis à adoção de termos abertos.
Entre os dispositivos citados por especialistas, está o que prevê a perda de herança não apenas por agressão física, mas também por “ofensa psicológica” ou “abandono afetivo”.
São expressões sem definição legal fechada, o que, na avaliação de juristas, abre caminhos para leituras díspares conforme entendimento de cada magistrado.
A crítica não ignora a relevância de coibir violências e omissões no ambiente familiar.
Entretanto, ressalta que conceitos indeterminados, quando não acompanhados de critérios objetivos, elevam a incerteza jurídica, aumentam o contencioso e dificultam a previsibilidade de resultados, sobretudo em temas sensíveis como filiação, alimentos e sucessão.
Contratos e a nebulosa “função social”
No campo contratual, a previsão de nulidade para cláusulas que contrariem a “função social do contrato” volta a acender a discussão sobre até que ponto o Estado — via decisões judiciais — pode interferir na autonomia privada sem delimitações precisas.
Juristas destacam que a função social já é princípio conhecido, mas alertam que a falta de critérios operacionais no texto em debate amplia o poder de revisão judicial de pactos, com impactos em investimentos e na segurança de transações.
Essa ressalva não pretende afastar o controle de abusos.
O ponto, segundo os especialistas, é que balizas claras são essenciais para orientar comportamentos, reduzir litígios e evitar disparidades entre tribunais, mantidas as peculiaridades de cada caso.
Linguagem técnica e previsibilidade
Para Venceslau Tavares Costa Filho, professor de Direito Civil da Universidade de Pernambuco, a proposta promove “hiperinflação de termos vagos ou indeterminados”, o que atribui aos juízes o poder de “criar a lei do caso concreto” ao preencher tais expressões.
Em sua análise, o projeto, em vez de atuar pela autocontenção judicial com regras específicas, tende a reforçar o ativismo ao multiplicar conceitos abertos — cenário que, afirma, eleva a insegurança jurídica e impõe riscos sociais.
O uso de linguagem compartilhada e tecnicamente precisa, apontam os especialistas, funciona como antídoto para controvérsias desnecessárias.
Quando todos os atores — cidadãos, empresas, Administração e Judiciário — partem de noções estáveis, a chance de disputa se reduz, e a aplicação da lei se torna mais uniforme.
Impactos sistêmicos e segurança jurídica
A crítica de fundo mira o equilíbrio entre os poderes e a segurança jurídica.
Sem delimitações normativas apropriadas, a tendência é que conflitos hoje resolvidos por regra clara migrem para o terreno das valorações judiciais, com soluções que oscilam no tempo e no espaço.
Isso afeta desde contratos civis e empresariais até relações de família, responsabilidade civil e sucessões.
Além de potenciais efeitos econômicos — por elevar custos de compliance e prêmios de risco —, a percepção de que “vale o que o juiz entender” pode desestimular a composição e fomentar litígios.
A literatura jurídica brasileira há muito debate a necessidade de calibrar princípios abertos com normas de aplicação concreta, política legislativa que, para os entrevistados, não estaria suficientemente contemplada no texto em discussão.
O que está em jogo para o Congresso
O debate no Congresso, portanto, não se restringe a ajustes de redação.
Para os juristas ouvidos, trata-se de definir quanto de discricionariedade o ordenamento pretende atribuir aos magistrados na concretização de direitos e deveres.
Ao mesmo tempo, parlamentares são chamados a ponderar se a arquitetura normativa proposta resguarda a previsibilidade necessária para a vida civil e a atividade econômica.
A decisão legislativa final indicará se o novo Código optará por princípios com balizas e regras operacionais — caminho que busca reduzir o espaço para arbitragens — ou se consolidará um modelo que expande interpretações a partir de expressões que, por natureza, exigem preenchimento judicial.
Diante dos argumentos apresentados por Martins-Costa, Magalhães e Costa Filho, qual deve ser a medida ideal entre flexibilidade e segurança jurídica em um Código Civil que pretende orientar a vida cotidiana de milhões de brasileiros?

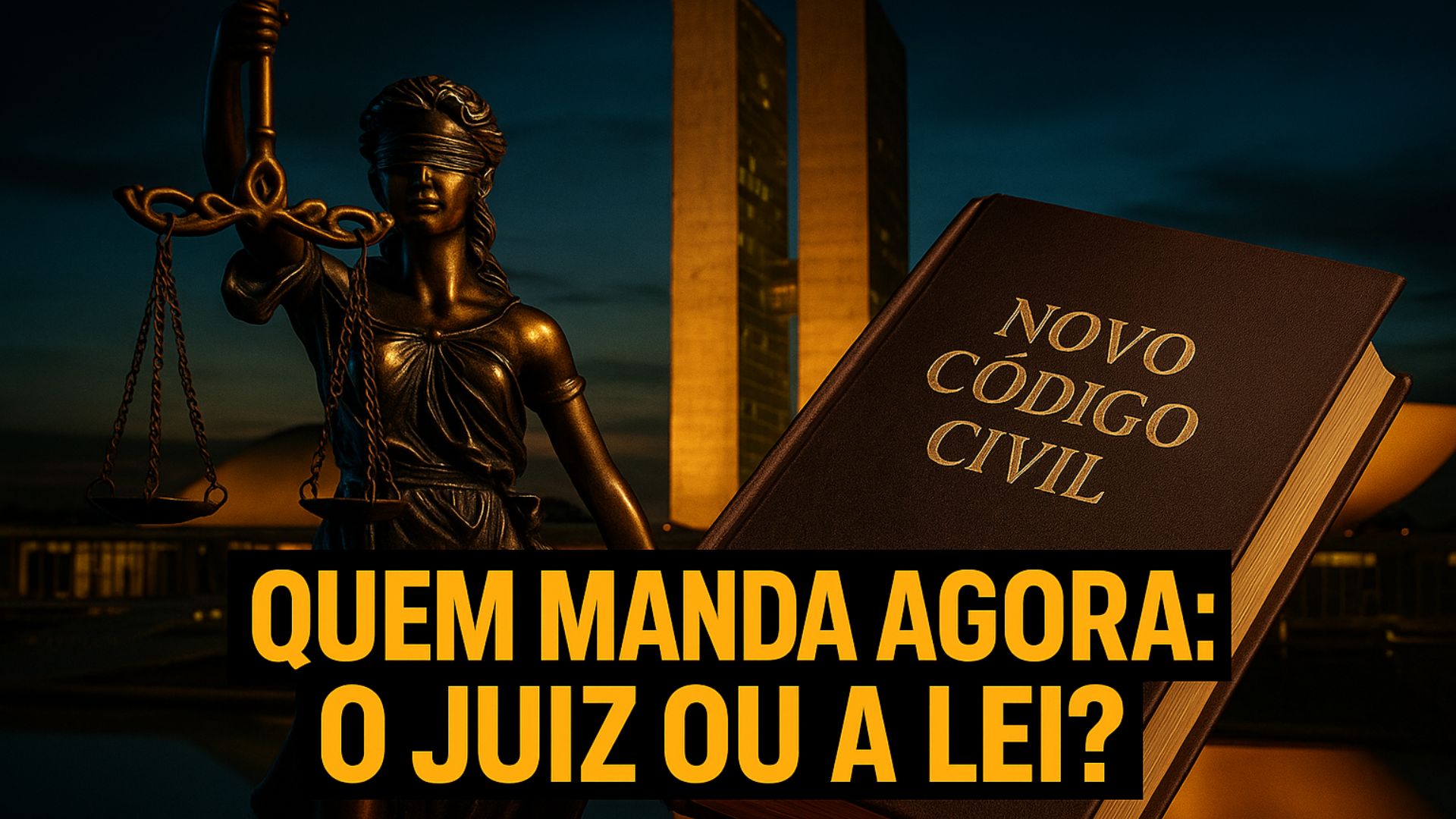


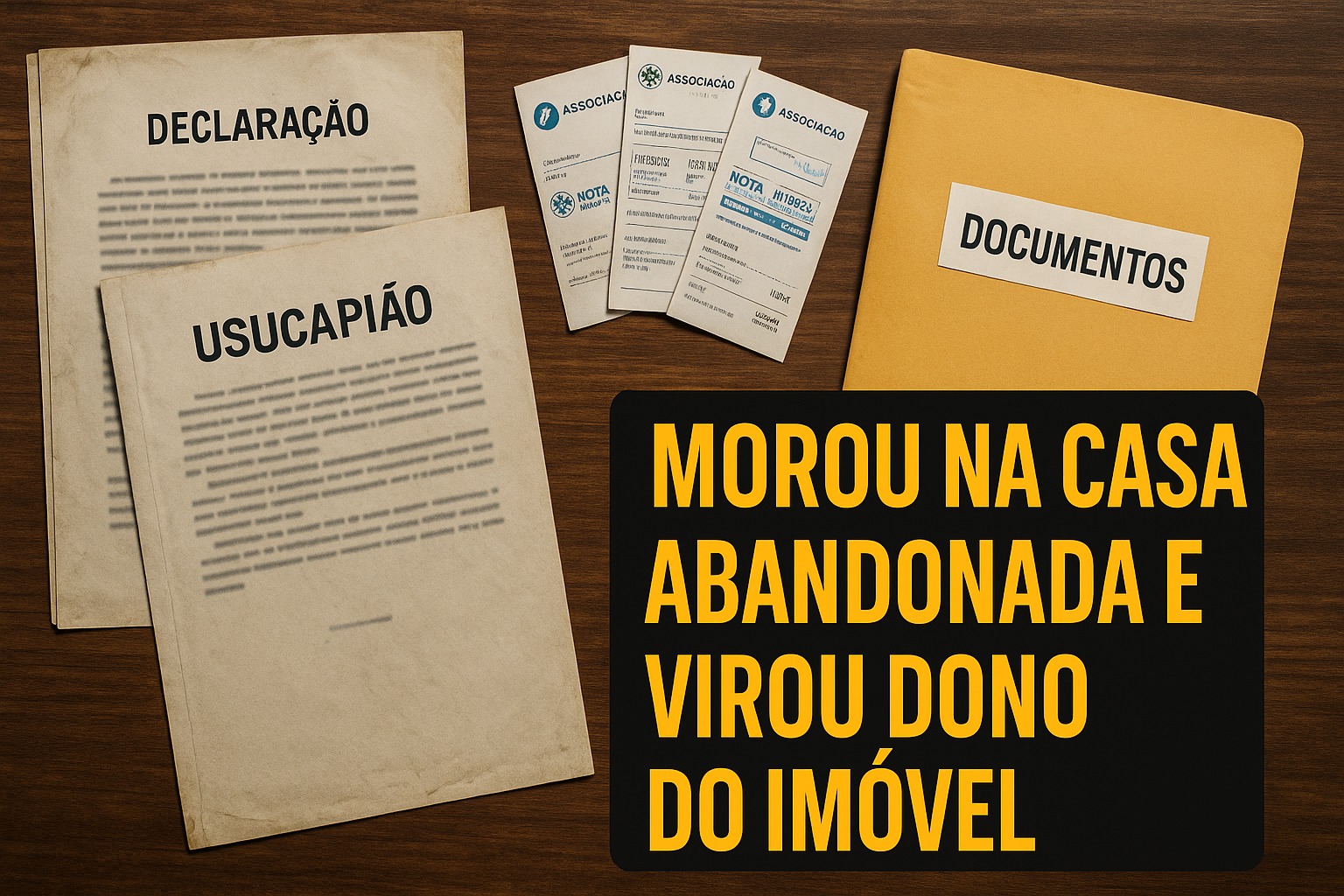


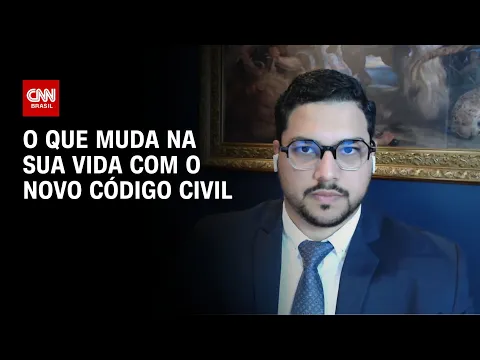
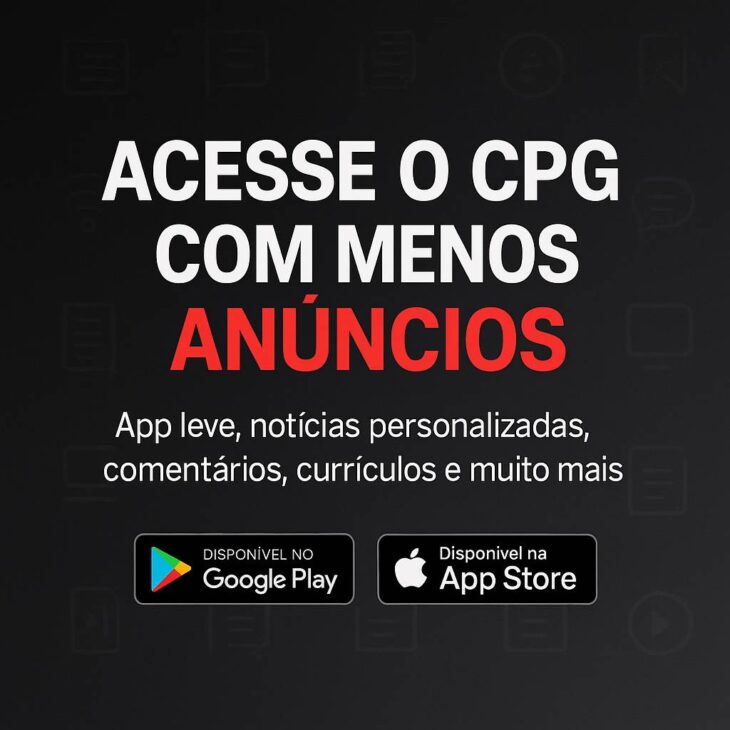










Seja o primeiro a reagir!