Em 1979, um experimento ousado de mineração em alto-mar alterou o fundo do oceano com o objetivo de estudar a extração de recursos minerais. Décadas se passaram, e agora os cientistas estão voltando ao local para avaliar os efeitos dessa intervenção. As marcas no leito marinho ainda são visíveis, revelando impactos ambientais que persistem 44 anos depois.
Em 1979, uma máquina de mineração em em alto-mar cruzou uma área remota do fundo do Oceano Pacífico. Foi um experimento. O objetivo: entender o impacto da mineração em águas profundas.
Quase meio século depois, a cicatriz permanece visível. E as consequências disso começam, só agora, a ser compreendidas.
Um teste de mineração em alto-mar que virou referência
A região afetada pertence à Clarion-Clipperton Zone (CCZ), uma vasta área entre o Havaí e o México. É lá que estão os nódulos de manganês, apelidados de “batatas de águas profundas”.
-
China mexe o tabuleiro global: minério de ferro dispara com promessa de estímulos e alta inesperada do aço no fim de outubro
-
Segurança de barragens no Brasil: nova norma da ANM amplia fiscalização, transparência e prevenção no setor de mineração
-
Levantamentos aerogeofísicos no Tocantins fomentam mineração sustentável, geração de empregos e modernização tecnológica no Brasil
-
Brasil mira o topo: US$ 18,45 bilhões em investimentos em Terras Raras prometem transformar a economia nacional
Eles contêm metais como níquel e cobalto, importantes para fabricar baterias usadas na transição energética.
Em 1979, um experimento removeu parte desses nódulos do solo oceânico. Passados 44 anos, cientistas voltaram ao local para ver o que mudou. E encontraram marcas ainda frescas.
“Os rastros parecem quase como se tivessem sido feitos ontem”, disse o Dr. Adrian Glover, do Museu de História Natural de Londres.
Essa permanência não chega a surpreender. No fundo do mar, os processos biológicos são lentos. Muito lentos. Mas ainda assim, a clareza das marcas assusta. O solo marinho parece paralisado no tempo.
Recolonização tímida, mas presente
Apesar da cicatriz visível, a vida começa a voltar. O estudo, feito em parceria entre o National Oceanography Centre e o Natural History Museum, analisou a fauna que reapareceu na área.
Segundo Glover, os dados mostram os primeiros sinais de recolonização biológica. Animais pequenos, como o xenofióforo – um organismo unicelular – estão reaparecendo. Eles vivem na superfície do sedimento e são comuns em outras áreas da CCZ.
Já os animais maiores, que vivem fixos no solo, quase não retornaram. A presença deles ainda é rara. O motivo disso ainda não está claro, e os cientistas não sabem o que isso pode significar para o equilíbrio do ecossistema marinho.
Escala do impacto da mineração em alto-mar ainda é um mistério
Uma das dificuldades em avaliar os riscos da mineração em alto mar está no tamanho da área estudada. A experiência de 1979 ocorreu em uma porção pequena do fundo do mar.
Comparado a uma operação comercial, é como olhar um grão de areia.
Uma mina real pode ocupar até 10.000 km². Um único contrato de mineração cobre cerca de 70.000 km². A própria CCZ tem cerca de 6 milhões de km². E isso representa apenas 2% da planície abissal global, que cobre mais da metade da superfície sólida do planeta.
Com isso, os cientistas afirmam que é praticamente impossível usar os dados do experimento para prever o impacto em escala global. A extrapolação seria arriscada demais.
E as plumas de sedimentos?
Outro ponto importante do estudo foi a análise das plumas de sedimentos. Quando a mineração ocorre, partículas são lançadas na água. Isso forma nuvens que podem sufocar organismos e alterar o ambiente marinho.
No entanto, o estudo de 2023 não encontrou efeitos negativos duradouros nesse aspecto. A presença de animais nas áreas afetadas era semelhante à de locais não minerados. Segundo os pesquisadores, os impactos das plumas parecem ser mais limitados do que se imaginava.
Mesmo assim, Glover é cauteloso. Os dados ainda são insuficientes para conclusões definitivas. “É um passo mais perto de entender o que pode ocorrer com a mineração em alto mar”, disse.
Proteção parcial, incerteza total
Para tentar reduzir os riscos, áreas protegidas foram criadas na CCZ. Elas cobrem cerca de 2 milhões de km², o equivalente a 30% da região sob exploração. A ideia é garantir que, mesmo com mineração, parte da biodiversidade seja preservada.
O problema? Ainda não sabemos o que vive nessas áreas. Não há estudos completos que permitam comparações entre as zonas protegidas e as áreas exploradas. Assim, não dá para saber se essa estratégia realmente funciona.
Glover explica que o foco agora deve ser entender essas regiões de proteção. Saber quais espécies vivem lá. E só então avaliar o risco de perder espécies para sempre.
Um alerta sobre o futuro
O estudo, publicado na revista Nature, traz uma mensagem clara: os efeitos da mineração em alto mar podem durar muito mais do que se imagina. Mesmo após 44 anos, os rastros estão lá. Claros, visíveis, inalterados.
E isso é apenas o começo. A indústria ainda está nos estágios iniciais. A maioria das operações comerciais nem começou. Mas a pressão por metais como níquel e cobalto aumenta a cada ano. A demanda por baterias cresce junto com a promessa de uma economia mais verde.
O dilema é real. Retirar metais da terra tem impactos ambientais imensos. O fundo do mar parece uma alternativa. Mas ainda não sabemos a que custo.
A pesquisa do Dr. Glover e sua equipe é uma das primeiras a mostrar, com dados de longo prazo, o que pode estar por vir. E aponta o que ainda falta entender: os riscos à biodiversidade, a recuperação de ecossistemas, a eficácia das áreas protegidas.
Não há resposta pronta. Mas o tempo está correndo. Porque os rastros de 1979 continuam lá. Intactos. Como um lembrete do que pode acontecer, caso o futuro chegue mais rápido que o conhecimento.










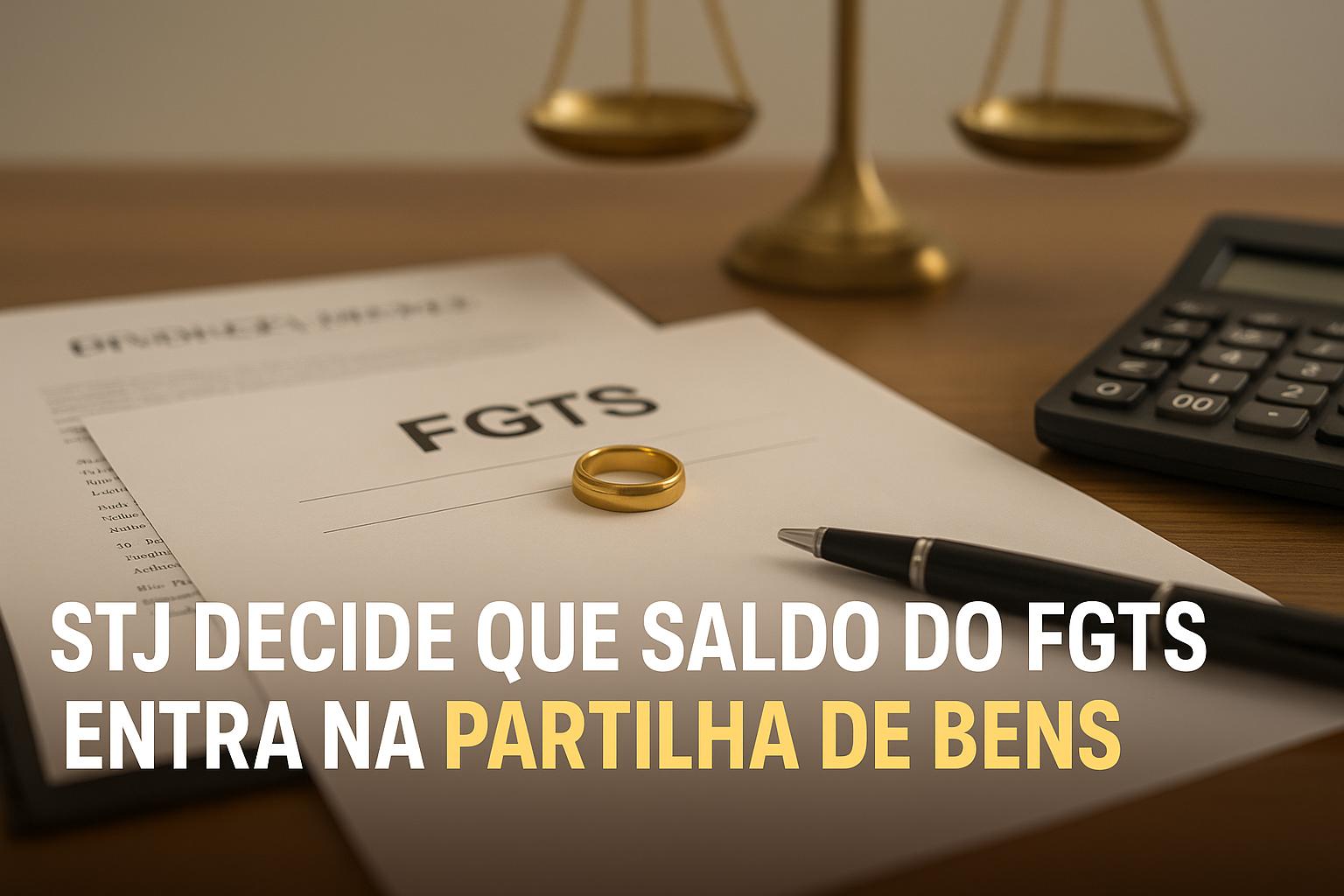





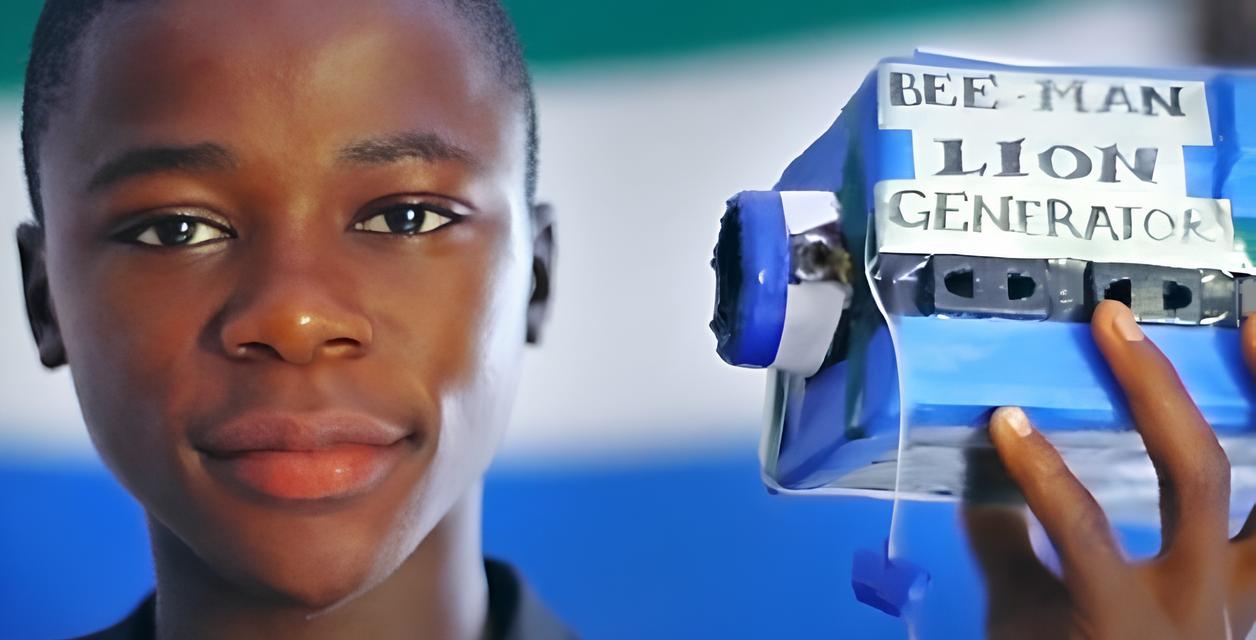

Seja o primeiro a reagir!