Dez anos após o naufrágio do navio Haidar, o casco submerso em Barcarena expõe a impunidade, a poluição e a crueldade do transporte vivo
Há exatos dez anos, o porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), foi palco de uma das maiores tragédias ambientais do país. O navio libanês Haidar, adaptado para transportar animais vivos, afundou em 6 de outubro de 2015, logo após embarcar 4.920 bois com destino à Venezuela. O acidente deixou um rastro de destruição, poluição e impunidade que, uma década depois, continua sem solução definitiva.
Um naufrágio anunciado
O Haidar havia sido um antigo porta-contêineres convertido em navio de carga viva. Pouco tempo após o embarque, começou a inclinar ainda atracado ao cais.
A tripulação, composta por 28 pessoas, foi resgatada sem ferimentos, mas os animais não tiveram a mesma sorte.
-
Isenção do ICMS no Paraná fortalece produtores artesanais, estimula consumo regional e impulsiona fabricação de queijo, requeijão e doce de leite
-
Exportações no Paraná impulsionam economia com novos mercados internacionais; soja e carne de frango lideram vendas externas e fortalecem balança comercial estadual
-
Cultivo de goiaba em Minas Gerais impulsiona agricultura familiar, agroecologia sustentável, sucessão rural, renda regional e segurança alimentar local
-
China compra recorde de soja do Brasil e deixa produtores dos EUA sem vendas desde setembro, com prejuízo estimado em até US$ 14 bilhões
Confinados nos porões improvisados, os bois entraram em pânico quando a água começou a invadir o navio.
O movimento coletivo dos animais acelerou o desequilíbrio da embarcação, que acabou tombando completamente e afundando em menos de duas horas.
A barbárie nas águas do Pará
A tragédia não terminou no momento do naufrágio. Poucos animais conseguiram escapar e, mesmo assim, foram perseguidos e mortos nas margens do rio Pará.
Centenas de moradores correram ao porto para aproveitar a carne, em uma cena descrita por testemunhas como caótica e cruel.
Animais foram abatidos dentro d’água ou arrastados até a terra para serem esfaqueados. O episódio, além de chocar o país, escancarou a ausência de controle das autoridades diante de um desastre ambiental e humanitário.
Um rio contaminado e um porto paralisado
Com o naufrágio, cerca de 700 toneladas de óleo diesel vazaram no rio, misturando-se aos corpos em decomposição dos bois.
O resultado foi um cenário dantesco: águas escuras, mau cheiro e toneladas de carcaças boiando até a região metropolitana de Belém, a mais de 50 quilômetros de distância.
A contaminação obrigou pescadores de diversas comunidades ribeirinhas a interromper suas atividades por meses.
Mesmo após investigações e acordos judiciais, as indenizações não cobriram os prejuízos, nem o principal problema foi resolvido: o casco do Haidar permanece submerso até hoje.
O navio fantasma de Barcarena
O casco do Haidar segue visível, tombado ao lado de um dos cais do porto de Barcarena. Tornou-se um símbolo mórbido da negligência com o meio ambiente e com a vida animal.
A presença da estrutura impede que parte do porto seja utilizada, causando prejuízos econômicos contínuos.
Uma tentativa de remoção chegou a ser contratada pelo Governo Federal, mas a empresa responsável recebeu parte do pagamento e abandonou o serviço.
Desde então, autoridades federais, estaduais e portuárias se revezam em empurrar a responsabilidade umas para as outras, sem avanço prático.
Protestos e lembranças dez anos depois
A marca dos dez anos reacendeu o debate. No último fim de semana, manifestações ocorreram em São Paulo, Belém e Barcarena.
Na Avenida Paulista, ativistas promoveram um protesto contra a exportação de animais vivos.
No Pará, o tema foi debatido no seminário “10 anos depois: o naufrágio do navio Haidar”, acompanhado da exibição do documentário “Elias: o boi que aprendeu a nadar”, produzido pela ONG Mercy For Animals.
O filme resgata a história de um dos poucos bois que sobreviveram ao desastre e denuncia as condições desumanas do transporte marítimo de gado.
A crueldade do transporte de animais vivos
As manifestações não se concentraram apenas na memória da tragédia, mas também na crítica ao sistema de exportação de animais vivos.
O método, comum no Brasil, submete os animais a semanas de confinamento em navios superlotados, sob calor intenso, falta de ventilação e acúmulo de fezes e urina.
Os navios são antigos e adaptados precariamente, o que aumenta os riscos de acidentes. O Haidar não foi caso isolado. Em 2009, um navio com 17 mil bois afundou no Líbano, matando também toda a tripulação.
Em 2019, outro acidente na Romênia matou 14 mil ovelhas, e em 2020, o Gulf Livestock afundou no Mar da China, levando consigo 6 mil bois e 40 tripulantes.
Maus-cheiros, mortes e protestos internacionais
O problema não se limita aos naufrágios. Em fevereiro de 2024, um navio que havia partido do Brasil rumo ao Iraque — também com gado da mesma empresa envolvida no caso de Barcarena — foi expulso do porto da Cidade do Cabo, na África do Sul.
O cheiro insuportável da mistura de fezes e urina tomou conta da região e gerou protestos de moradores.
Casos como esse reforçam as críticas de organizações internacionais e pressionam governos a adotar medidas mais rígidas.
Caminhos para o fim do transporte vivo
Na Nova Zelândia, o transporte marítimo de animais vivos já foi totalmente proibido. No Brasil, há propostas em discussão no Congresso Nacional com o mesmo objetivo, embora enfrentem resistência por causa do peso econômico do setor agroexportador.
Defensores da proibição afirmam que o país poderia exportar carne processada, eliminando o sofrimento animal e reduzindo riscos ambientais. O tema volta à pauta justamente às vésperas da COP30, que acontecerá no Pará.
Um símbolo de descaso às vésperas da COP30
A proximidade da conferência mundial sobre o clima torna o episódio ainda mais constrangedor para o Brasil.
O casco enferrujado do Navio dos Bois, ainda no fundo do porto de Barcarena, permanece como um lembrete incômodo do desastre não resolvido.
O naufrágio, a contaminação e a impunidade revelam o contraste entre o discurso ambiental do país e a realidade vivida na Amazônia paraense.
Um símbolo de tudo o que se tenta esconder sob as águas escuras do rio Pará — e que, dez anos depois, ainda não afundou na memória de quem viu o horror acontecer.
Com informações de UOL.







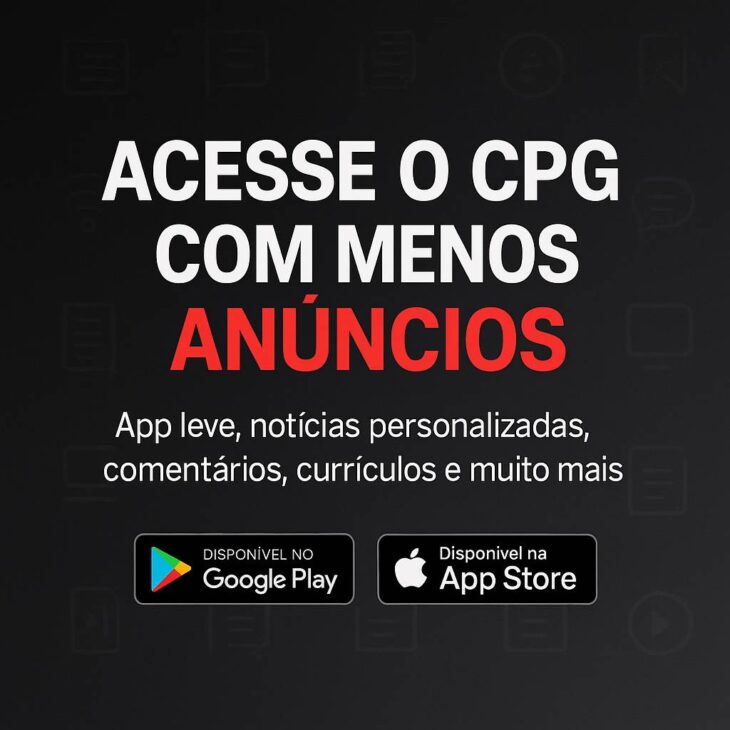







Seja o primeiro a reagir!