Meio século depois do fim da Guerra do Vietnã, o impacto ambiental da devastação química e das táticas militares persiste, revelando as profundas marcas deixadas pela destruição da natureza em tempos de conflito
Em 30 de abril de 1975, a Guerra do Vietnã chegou ao fim, deixando para trás mais do que destruição humana. O conflito também devastou a natureza. Manguezais, florestas e rios foram gravemente danificados.
O termo “ecocídio” surgiu no fim da década de 1960 para descrever o uso de armas químicas, como o Agente Laranja, pelos militares dos EUA. Cinquenta anos depois, o solo e a água do Vietnã ainda carregam as marcas dessa destruição.
Guerra do Vietnã: A origem do ecocídio
Antes mesmo do envio de tropas americanas em 1965, a guerra já assolava o Vietnã. Para combater um inimigo oculto nas selvas e pântanos, os EUA recorreram a táticas de modificação ambiental.
-
Risco geológico e hidrológico no Rio Grande do Norte: SGB fortalece gestão preventiva, defesa civil integrada e mapeamento técnico de desastres naturais
-
Milei desafia urnas com plano “Argentina grande outra vez” e aposta em salários em dólar sob pressão dos EUA e apoio direto de Donald Trump
-
General venezuelano preso nos EUA revela detalhes da operação secreta “Círculo Final”, conduzida pela CIA e Marines Raiders, que mira derrubar Nicolás Maduro e desmantelar o regime chavista
-
EUA e Austrália aceleram minerais críticos com metas até 2026 e reforço à indústria de defesa
A mais conhecida foi a Operação Ranch Hand, que pulverizou mais de 75 milhões de litros de herbicidas em 2,6 milhões de hectares. Grande parte dessa ação envolveu o Agente Laranja, contaminado com dioxina, um composto tóxico.
O objetivo era claro: eliminar a cobertura vegetal para expor guerrilheiros e destruir plantações suspeitas. Civis e soldados foram igualmente expostos.
Em 1969, surgiram evidências de que o Agente Laranja causava defeitos congênitos em animais. Como resposta, o uso do produto foi suspenso em 1970, e a última missão ocorreu em 1971.
O fogo que consumiu florestas
Além dos herbicidas, os EUA utilizaram armas incendiárias em larga escala. O napalm espalhou mais de 400 mil toneladas de petróleo espessado sobre o território vietnamita.
Os incêndios matavam plantas, animais e deixavam o solo infértil, dominado por gramíneas invasoras. Experimentos conduzidos pelo Serviço Florestal dos EUA também testaram a incineração de grandes áreas, agravando ainda mais a destruição.
Máquinas chamadas “arados romanos” derrubavam vastas áreas de floresta diariamente. Bombas “corta-margaridas” geravam ondas de choque capazes de eliminar toda a vida em áreas de 900 metros de raio.
Modificações climáticas também foram empregadas, com o Projeto Popeye, que semeava nuvens para prolongar as chuvas e prejudicar as rotas inimigas.
Impactos ignorados
Apesar dos alertas de cientistas e das preocupações do Congresso, houve pouco esforço para avaliar os danos ambientais causados pela guerra.
A destruição era difícil de medir, pois muitas áreas eram inacessíveis e faltava monitoramento constante. Os militares americanos defendiam que a estratégia era eficaz, trocando árvores por vidas americanas.
Após a guerra, os EUA impuseram um embargo econômico ao Vietnã, dificultando qualquer esforço de recuperação ambiental. Pesquisadores vietnamitas, com poucos recursos, conduziram estudos locais.
Um levantamento revelou que 80% das florestas pulverizadas por herbicidas não haviam se recuperado até a década de 1980. A biodiversidade nessas áreas era drasticamente reduzida.
Tentativas de recuperação
Algumas ações de restauração começaram tardiamente. Em 1978, silvicultores iniciaram o replantio manual de manguezais na floresta de Cần Giờ.
No interior, programas de plantio de árvores só ganharam força no final dos anos 1980 e 1990, mas priorizaram espécies exóticas, como a acácia, que não devolveram a diversidade original das florestas.
A limpeza de áreas contaminadas também demorou a começar. Durante décadas, os EUA negaram responsabilidade pelos danos do Agente Laranja. Só em 2006 houve um acordo para iniciar a descontaminação do aeroporto de Da Nang, antigo local de armazenamento do produto químico.
O trabalho de limpeza, concluído em 2018, tratou 150 mil metros cúbicos de solo contaminado a um custo de mais de US$ 115 milhões, financiados principalmente pela USAID. A remediação envolveu técnicas complexas, como a drenagem de lagos e o aquecimento do solo para quebrar as moléculas de dioxina.
As dificuldades jurídicas e políticas
Apesar das leis internacionais criadas após o conflito, como a revisão das Convenções de Genebra em 1977 e a assinatura de tratados contra o uso de armas incendiárias, muitos danos ambientais continuam sem punição. Casos recentes na Ucrânia, Gaza e Síria mostram que esses tratados, na prática, têm eficácia limitada.
O Vietnã foi o primeiro país a declarar o ecocídio como crime em seu código penal. Contudo, a lei ainda não resultou em processos judiciais. Rússia e Ucrânia também possuem leis semelhantes, mas elas não impediram danos ambientais em seus atuais conflitos armados.
Há uma campanha internacional em curso para incluir o ecocídio como o quinto crime punível pelo Tribunal Penal Internacional, ao lado do genocídio e dos crimes de guerra. Entretanto, o avanço é lento e encontra resistência.
Lições deixadas pela guerra
A experiência do Vietnã revela que ignorar as consequências ambientais de guerras gera efeitos duradouros e difíceis de reverter. Apesar dos avanços tecnológicos, como o uso de imagens de satélite, ainda é essencial o monitoramento terrestre para avaliar os danos.
O legado do Agente Laranja e das táticas de destruição ambiental continua a impactar o Vietnã meio século depois. O que falta, mais do que tecnologia ou legislação, é a vontade política de tratar a preservação ambiental como uma prioridade, mesmo em tempos de conflito.
A guerra ensinou duramente que a natureza também é vítima, e sem proteção efetiva, os danos se perpetuam por gerações.
Com informações de ZME Science.







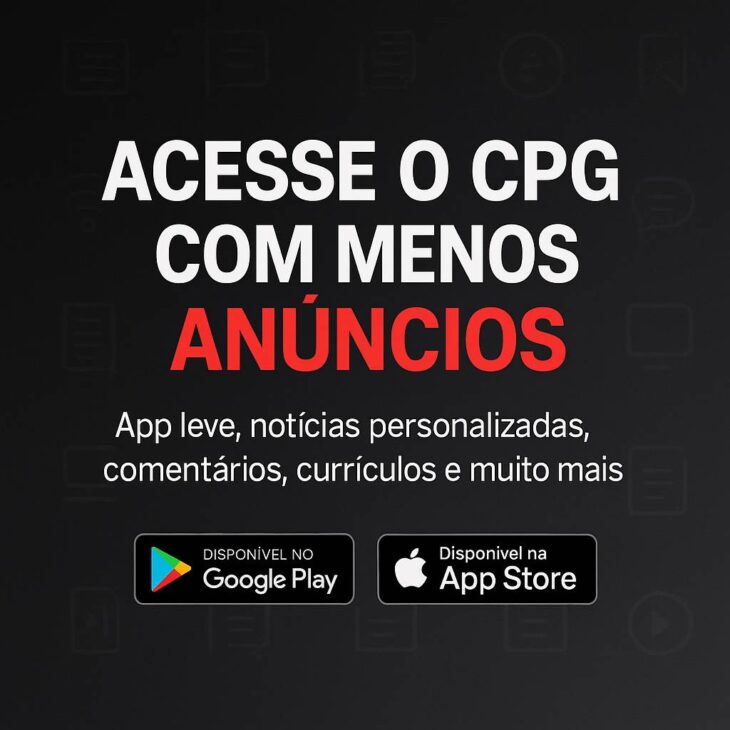



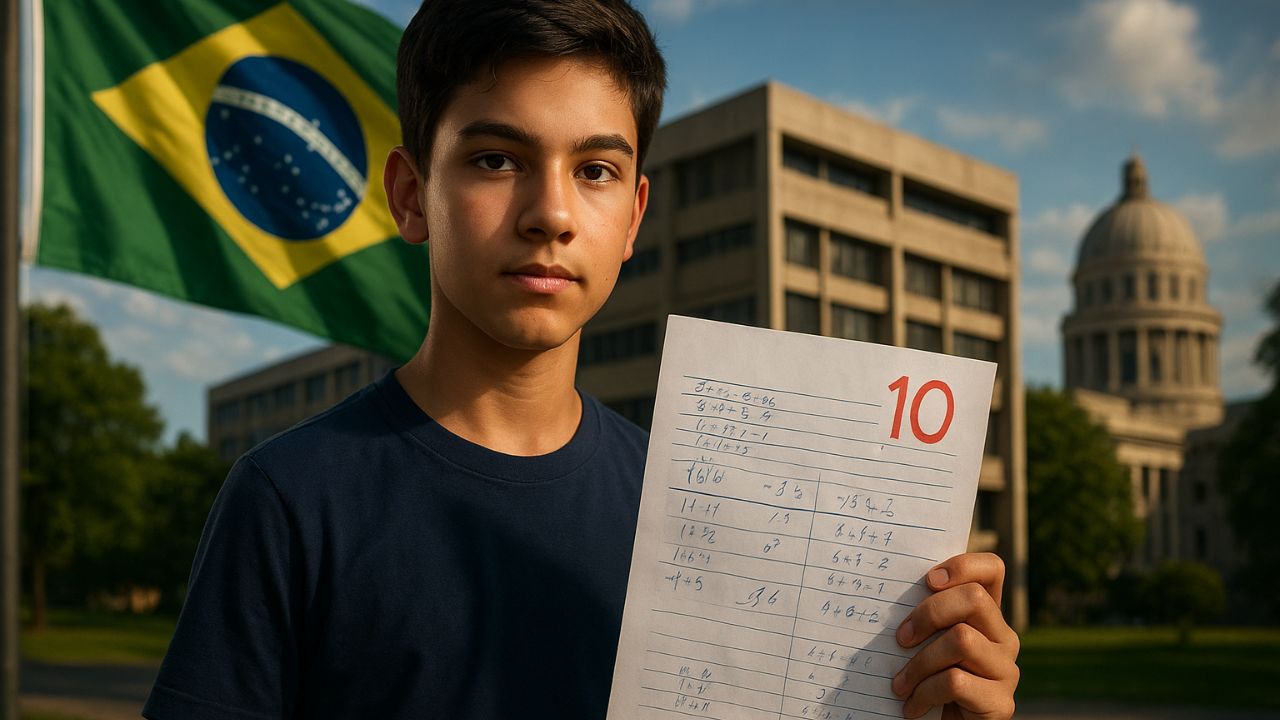
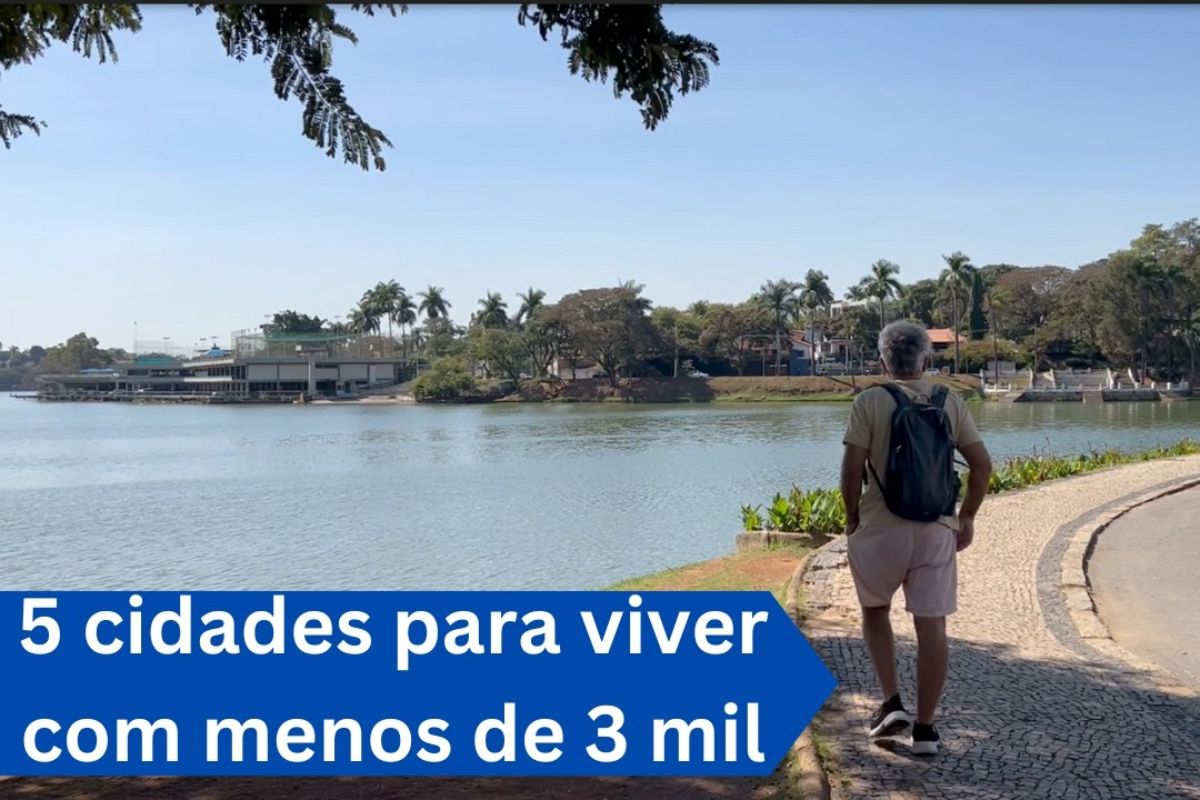





Seja o primeiro a reagir!