O trânsito brasileiro acumula falhas de infraestrutura, buracos, decisões impopulares sobre velocidade e uma cultura de risco que expõe especialmente motociclistas jovens nas cidades, formando um ciclo de violência que se retroalimenta e é difícil de romper
O trânsito brasileiro convive com escolhas estruturais que priorizam fluidez aparente em vez de segurança real. Pistas mal conservadas, desníveis, acostamentos inseguros e trechos urbanos encravados em rodovias criam cenários onde o erro humano é amplificado e as consequências são graves.
Conforme explica Cezar Unhani, ao mesmo tempo, medidas de gestão de velocidade encontram resistência política e social, enquanto a cultura de risco permanece naturalizada. O resultado recai com força sobre os mais vulneráveis nas cidades, com destaque para motociclistas jovens, em um ambiente em que cada buraco, cada desnível e cada escolha de projeto alteram o desfecho de uma viagem.
Infraestrutura que falha no básico
A malha viária do país é heterogênea.
-
BYD Song Pro híbrido flex chega ao Brasil com tecnologia exclusiva e foco em custo-benefício
-
Com potência combinada de 457 cv e câmbio automático de 10 marchas, o híbrido Toyota Land Cruiser 300 Hybrid estreia em 2026 e se posiciona como o SUV mais potente da marca até hoje
-
Honda redefine suas prioridades: híbridos assumem protagonismo até 2030, enquanto elétricos avançam com cautela
-
Volkswagen confirma o ID.2all 2026: novo carro elétrico compacto com até 450 km de autonomia, motor de 226 cv e promessa de ser o “substituto moderno do Golf” por menos de R$ 150 mil
Trechos de alta qualidade convivem com pavimento remendado, mistura de asfalto e cimento e “bumping” que desestabiliza veículos.
Em muitos corredores, a geometria não perdoa erros e as variações de nível em bocas de lobo e juntas mal executadas forçam manobras bruscas de desvio, especialmente perigosas em meio a motos circulando entre faixas.
Outro problema recorrente é a proximidade de áreas urbanas com as rodovias, criando perímetros de conflito nos quais a via rápida vira avenida sem transição segura.
Faixas estreitas, acessos improvisados e pedestres no acostamento compõem um quadro cotidiano.
Quando a estrada se torna fronteira de expansão urbana, o desenho viário passa a produzir risco por projeto, e não por exceção.
Gestão de velocidade: por que é impopular e por que funciona
Reduzir velocidades médias salva vidas de forma imediata, mas esbarra em custos políticos.
A percepção de que “a cidade precisa andar mais rápido” ignora que ajustes de limite compatibilizam a diferença entre carros, ônibus, caminhões e, sobretudo, motocicletas.
Quando a via opera a 40 km/h e motos cruzam a 80 km/h pelo corredor, a incompatibilidade vira fator de sinistro.
Experiências apontam que velocidades adaptativas por horário e fluxo podem equilibrar eficiência e segurança.
Placas variáveis e controle dinâmico favorecem o transporte coletivo em picos e reduzem choques de velocidade fora de pico.
A mensagem técnica é simples: tratar velocidade é a intervenção de maior impacto imediato, enquanto grandes obras exigem anos e orçamentos maiores.
Cultura de risco e responsabilidade compartilhada
Há um componente cultural que normaliza comportamentos inseguros.
Paradas em acostamento, encontros em pontos sem proteção, circulação a poucos centímetros de veículos mais pesados fazem parte de rotinas que ampliam a chance de erro.
Não existe “pequeno tombo” de moto sem lesão e cada desvio improvisado para escapar de um buraco pode lançar um motociclista ao chão.
A visão contemporânea de segurança viária exige responsabilidade compartilhada. Quem dirige o veículo mais pesado tem maior dever de cuidado.
O gestor público responde pelo desenho das vias, manutenção, fiscalização e comunicação. E cada usuário precisa reconhecer limites físicos e contextuais.
Culpar apenas a vítima empobrece o diagnóstico e impede correções eficazes.
Motociclistas jovens no centro da tragédia urbana
A combinação de mobilidade cara, transporte público insuficiente e necessidade econômica empurra muitos jovens para a motocicleta como solução de renda e deslocamento.
A moto é ágil e acessível, mas expõe o corpo a um ambiente que não foi pensado para errar. Buracos, desníveis, óleo na pista e frenagens de emergência cobram um preço alto.
Relatos de hospitais indicam que parte relevante das internações não envolve atividade profissional e que falta de habilitação e consumo de álcool ou drogas aparecem com frequência nos prontuários.
Esses achados reforçam que o problema não é um grupo único, mas um ecossistema de riscos difusos no qual formação, fiscalização e engenharia precisam atuar em conjunto para reduzir danos.
O que fazer já: engenharia, fiscalização e comunicação
Algumas medidas são de baixa complexidade e alto retorno.
Tapa-buracos com padrão de qualidade, nivelamento de grelhas e juntas, correções de desnível em portas de bueiro e reforço de aderência reduzem quedas e manobras evasivas.
Em corredores críticos, sinalização horizontal renovada, faixas mais largas onde possível e espaços de refúgio diminuem conflitos entre carros e motos.
Na gestão, limites compatíveis com o desenho real da via, fiscalização previsível e comunicação clara mudam comportamentos.
Educação focada em cenários reais, como manter velocidade no corredor condizente com o fluxo, respeitar setas e criar brechas para trocas de faixa, melhora a convivência.
Dados abertos e metas públicas ajudam a alinhar expectativas e cobram resultados.
O trânsito brasileiro precisa parar de contar com a sorte. Infraestrutura bem mantida, gestão de velocidade baseada em evidências e cultura de responsabilidade formam o tripé para reduzir mortes, sobretudo entre motociclistas jovens nas cidades.
Buracos, desníveis e decisões impopulares não podem continuar decidindo quem chega em casa.
Você concorda que atacar buracos, desníveis e gestão de velocidade deveria ser prioridade imediata no trânsito brasileiro? Em que ponto da sua cidade o risco é mais visível no dia a dia e o que funcionaria primeiro na sua avaliação? Deixe sua visão nos comentários, queremos ouvir quem vivencia isso nas ruas.








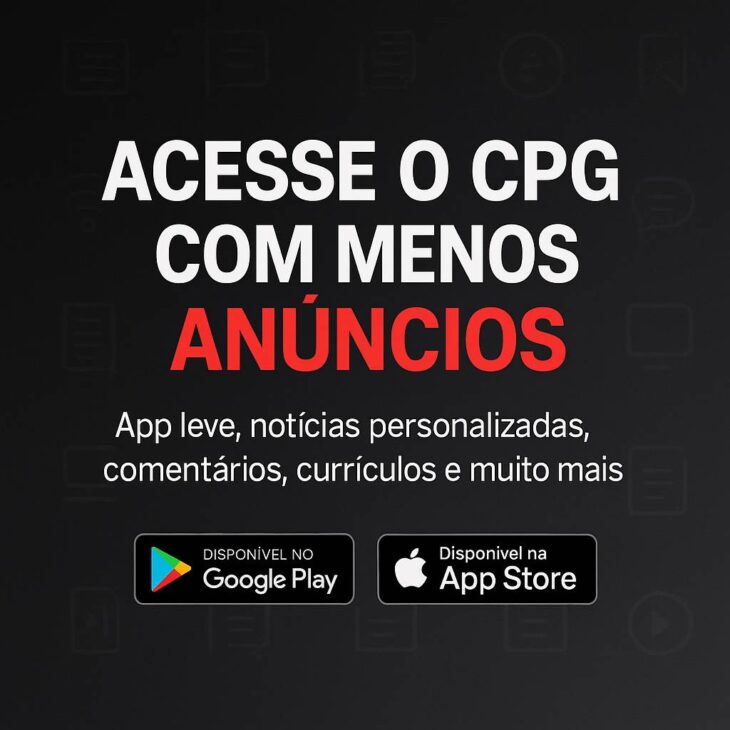








Concordo plenamente. Já existe a muitos anos, uma falta de preocupação em manutenção com as vias públicas. Os gestores públicos entenderam que não investir na manutenção de qualidade das vias públicas, além de ser uma tarefa a menos, é altamente rentável, do ponto de vista da arrecadação de impostos, afinal, tanto um carro, quanto principalmente peças como pneus, amortecedores e demais componentes tem vida útil extremamente reduzida em uma via com buracos e desníveis.
Sendo assim, o proprietário terá que realizar manutenções e trocas de peças com muito mais frequência, arrecadando mais impostos.