Estudos recentes revelam impactos alarmantes da ancoragem em regiões sensíveis do fundo marinho antártico
O tráfego de navios nas águas da Antártida aumentou significativamente nas últimas décadas.
Desde 1990, a região passou a receber não apenas embarcações de pesquisa científica, mas também navios de turismo, pesqueiros e iates particulares.
Embora essa presença constante tenha impulsionado a economia polar e colaborado com o avanço do conhecimento científico, os impactos ambientais decorrentes das operações marítimas despertaram sérias preocupações.
Principalmente, a prática recorrente de ancoragem em áreas ecologicamente frágeis vem sendo apontada como uma das principais ameaças aos ecossistemas marinhos da região.
Segundo a Organização Marítima Internacional (OMI), órgão responsável por regulamentar a segurança e proteção ambiental do transporte marítimo global, é essencial implementar normas específicas para reduzir esses danos.
As diretrizes já existentes, embora importantes, têm se mostrado insuficientes diante do crescimento contínuo do tráfego na região.
Imagens revelam degradação no fundo do mar causada por âncoras
Durante o verão austral de 2023, uma equipe internacional de pesquisadores registrou imagens inéditas dos efeitos da ancoragem no leito marinho antártico.
O material, divulgado em janeiro de 2025, evidenciou alterações profundas no substrato e uma redução alarmante na biodiversidade local.
As âncoras, ao serem lançadas e recolhidas, provocam sulcos e deslocamentos de sedimentos, além de esmagarem organismos como corais e esponjas gigantes.
-
Rios amazônicos recuperam níveis normais após estiagens severas e apontam nova fase para o monitoramento climático brasileiro
-
Primeiro navio de carga movido a vento do mundo chega à Espanha com 64 mil toneladas e promete cortar até 41 toneladas de CO₂ por dia
-
Um gigante navio chines atravessou o Ártico em apenas 20 dias transportando 4.000 contêineres e revolucionou o comércio China-Europa; conheça o Istanbul Bridge
-
Monitoramento dos rios na Amazônia ganha reforço com embarcação Uiara, unindo tecnologia hidrológica, gestão sustentável, inovação naval e segurança hídrica nacional
Além disso, as correntes de fixação das âncoras ampliam a área de impacto ao serem arrastadas lateralmente, o que destrói habitats marinhos essenciais.
Tais danos afetam diretamente espécies de crescimento lento e distribuição geográfica restrita à Antártida.
Entre elas, destacam-se colônias de esponjas que, além de servirem como filtros naturais da água, funcionam como abrigo para inúmeros microrganismos e peixes.
Crescimento lento e fragilidade dificultam regeneração do ecossistema
Diferentemente de regiões tropicais, o ecossistema marinho da Antártida apresenta condições extremas. Baixas temperaturas, escassez de nutrientes e a presença de organismos sésseis, que não conseguem se deslocar, tornam a recuperação das áreas degradadas extremamente lenta.
Espécies como esponjas e corais antárticos vivem por milhares de anos, mas seu desenvolvimento ocorre de forma muito gradual.
Por isso, áreas impactadas pelas âncoras podem levar décadas para se regenerar ou, em muitos casos, jamais se recuperarem por completo.
A vulnerabilidade biológica, somada à baixa taxa de crescimento, agrava os riscos de desequilíbrio ambiental.
A recuperação depende ainda de fatores como o tipo de sedimento e a intensidade da perturbação causada pela ancoragem.

Medidas preventivas e cooperação internacional são essenciais
Frente à gravidade do cenário, especialistas têm proposto ações urgentes.
Entre as alternativas, destacam-se a criação de zonas de exclusão, nas quais a ancoragem seria terminantemente proibida, e o uso de tecnologias como sistemas de ancoragem flutuante, que evitam o contato direto com o fundo do mar.
Outras medidas em debate incluem:
- Mapeamento de regiões vulneráveis para orientar a navegação;
- Monitoramento contínuo das embarcações e impactos ecológicos;
- Desenvolvimento de regras internacionais específicas para o tráfego antártico;
- Fortalecimento da cooperação entre países signatários do Tratado da Antártica, ONGs ambientais e órgãos reguladores como a OMI.
Essas estratégias, no entanto, exigem vontade política, recursos financeiros e, acima de tudo, compromisso internacional com a conservação marinha polar.
O compartilhamento transparente de dados científicos e a revisão contínua das regulamentações também são passos fundamentais.
Protocolo de Madri e novos estudos reforçam urgência de preservação
O Protocolo de Madri, que entrou em vigor em 1998, já estabelece normas rígidas de proteção ambiental para a Antártida.
Ele proíbe qualquer exploração mineral (exceto a científica), exige avaliações de impacto ambiental para todas as atividades inclusive o turismo e define a Antártida como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência.
O tratado segue em vigor até, pelo menos, 2048, vinculando todas as nações signatárias.
Contudo, apesar desses avanços legais, estudos publicados em fevereiro de 2025 reforçam que a ancoragem desregulada permanece sendo um dos fatores mais destrutivos do atual cenário marítimo polar.
A documentação audiovisual recente, capturada por robôs submarinos e drones, comprova que os protocolos existentes não têm sido suficientes para conter a degradação em andamento.
Diante disso, o equilíbrio entre exploração científica, turismo e preservação ambiental torna-se um dos maiores desafios geopolíticos da atualidade.
O futuro da biodiversidade marinha antártica dependerá de ações coordenadas e baseadas em evidências com decisões que considerem tanto a urgência ambiental quanto a importância estratégica da região para o planeta.







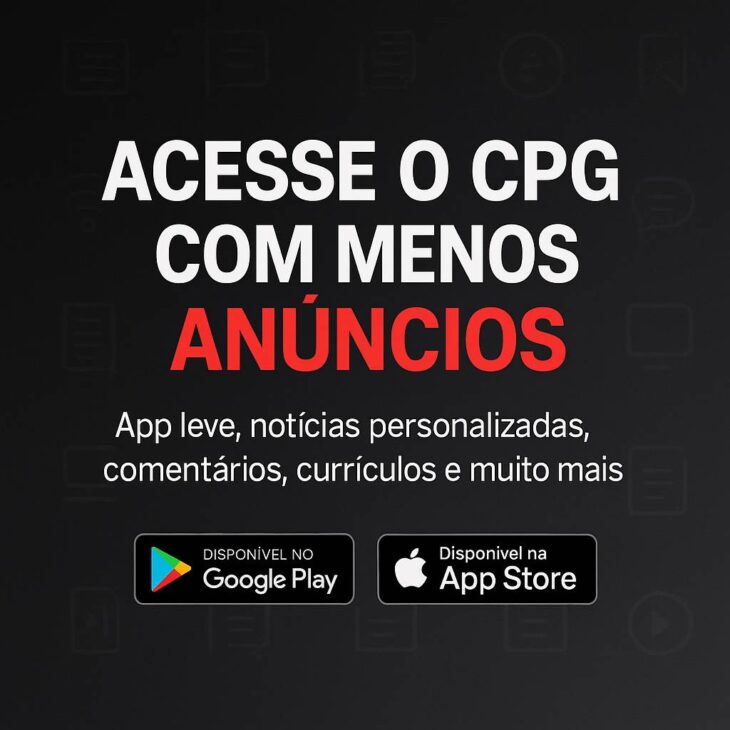



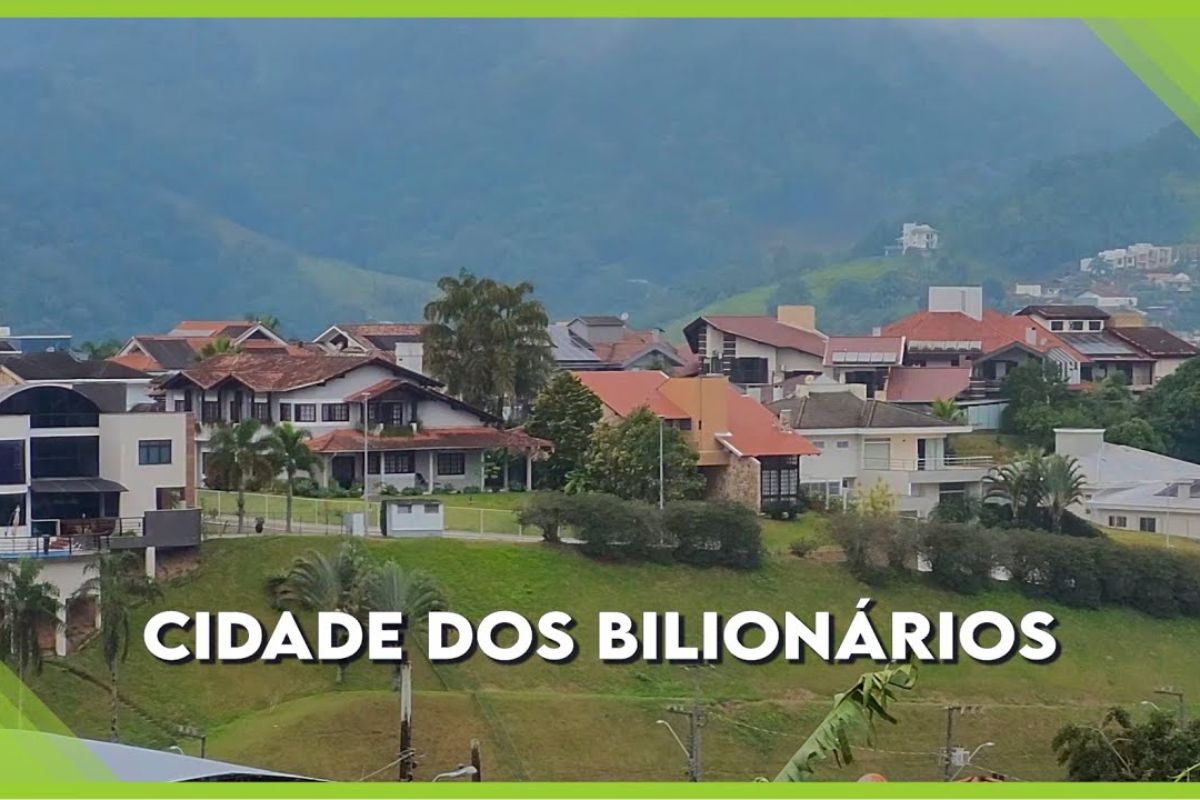





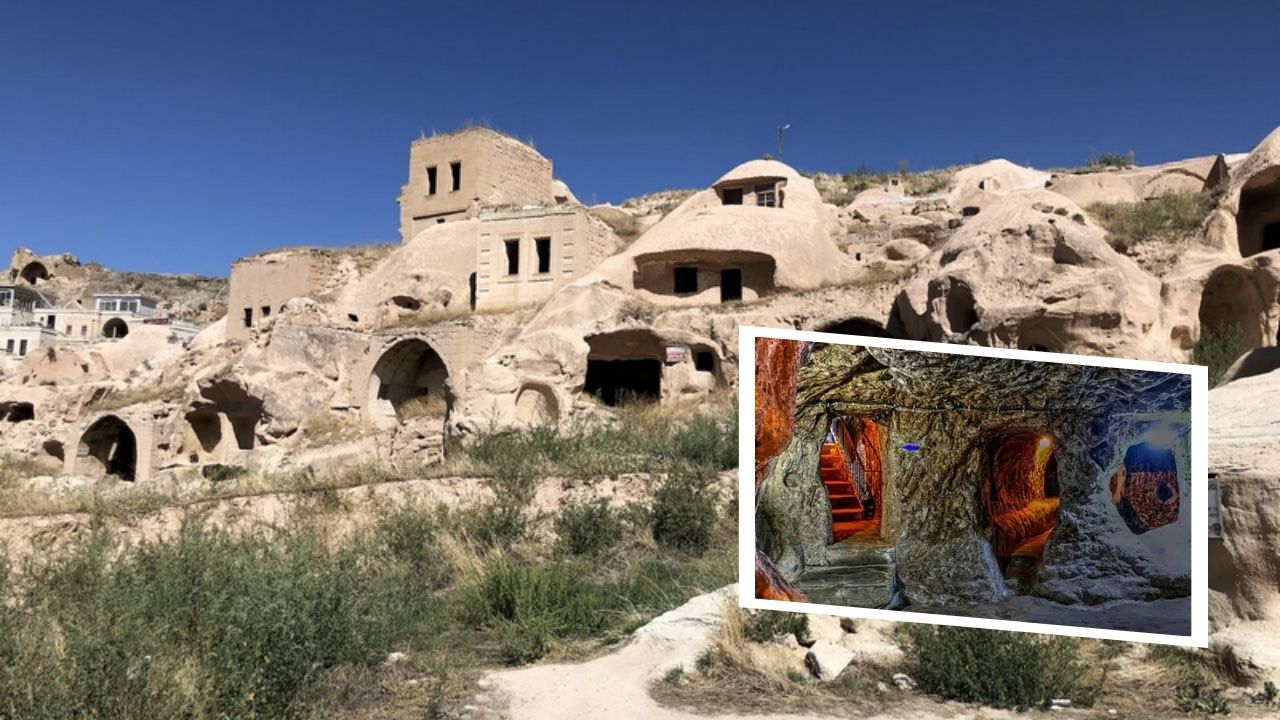

Seja o primeiro a reagir!